Capítulos de livros
Nesta seção, apresentamos capítulos de livros escritos por pesquisadores(as) do HGEL.

FARACO, C. A. Norma culta e ensino: antecedentes e perspectivas. In: MENDES, C. de S. S.; LOPES, I. de A.; DAMASCENO, M. F. de C. (org.) Variação linguística e letramentos: do cotidiano à escola. e-book. São Carlos: Pedro & João Editores, 2025. p. 13-23.
Neste capítulo, o autor desenvolve uma análise crítica sobre a relação entre a norma culta, a norma-padrão e o ensino de língua portuguesa no Brasil, problematizando as tensões históricas, sociais e pedagógicas que envolvem o tema. Em sua discussão, o autor mostra que a norma culta não é homogênea, varia entre fala e escrita e varia dentro dos próprios contextos formais. Explora também os conflitos sociolinguísticos que os professores de português têm de enfrentar em sua prática pedagógica: os conflitos entre as variedades do português standard e as variedades do chamado português popular; entre a norma culta falada e a norma culta escrita; entre a norma culta e a norma-padrão e entre a norma-padrão e a norma curta. O autor defende, por fim, uma pedagogia sociolinguisticamente informada.

FARACO, C. A. A retórica em tempos sombrios. In: CAVALHEIRO, J.; CORRÊA, M.; NUNES, D. (org.). Linguagem, literatura, artes perspectivas e interfaces. Rio Branco: Nepan Editora, 2024. p. 13-25.
O objetivo principal deste capítulo é fazer um elogio à retórica, mesmo apontando algumas de suas fragilidades. Esse elogio não é aplicado apenas à retórica como um saber técnico, uma arte (no sentido clássico do termo), mas principalmente à retórica como uma visão de mundo. Ou, em outros termos, um elogio ao filosofar que justificou a criação da retórica dois mil e quinhentos anos atrás. O texto revisita algumas das obras fundamentais da retórica greco-latina; traça um breve histórica dos estudos retóricos; recupera o pensamento sofístico, presente na criação da retórica; apresenta a contribuição de Bakhtin aos estudos retóricos; e, por fim, avalia fragilidades que afetam o processo persuasivo.

FARACO, C. A. O conceito de “gênio da língua” na construção do pensamento linguístico moderno. In: CELSUL 25 anos : práticas linguageiras e gramaticais. RASIA, G.; NEGRI, L.; RODRIGUES, P. (org.). Campinas: Mercado de Letras, 2024. p. 57-76.
Este capítulo foi apresentado como conferência de encerramento do XV CELSUL. Há, de início, uma referência ao Prof. Geraldo Mattos, homenageado do evento e de quem o autor foi aluno em sua graduação em Letras. Na sequência, o texto rememora a conferência feita pelo autor no encerramento do IV CELSUL, que, publicada no jornal Folha de S.Paulo, motivou a polêmica a propósito do projeto de lei sobre os chamados estrangeirismos que tramitava, à época, na Câmara dos Deputados. Por fim, o texto foca no conceito de “gênio da língua”. A discussão, de caráter historiográfico, busca mostrar que esse conceito, surgido no século 17, contribuiu para a construção da língua como objeto autônomo no século 18, fundamento da linguística moderna.

FARACO, C. A. Políticas linguísticas: a importância da intervenção das organizações sociais no processo legislativo. In: SILVA, A. H. P.; LAGARES, X. C.; MAIA, M. (org.). Linguagem simples para quem? A comunicação cidadã em debate. Campinas: Editora da ABRALIN, 2024. p. 53-67.
Este capítulo, assumindo uma perspectiva glotopolítica, rememora, criticamente, várias iniciativas legislativas brasileiras sobre questões de língua ocorridas nas primeiras décadas do século 21. Foram apontadas dificuldades que afetam a participação da sociedade civil organizada nos processos legislativos, buscando recolher subsídios para a ação da Comissão de Políticas Públicas da ABRALIN no sentido de abrir canais de comunicação com o Legislativo Federal para que se alcance uma lei que promova, de fato, a comunicação cidadã entre o Estado e a sociedade, e não se limite a platitudes vazias sobre “técnicas de linguagem simples”.

VIEIRA, F. E.; FARACO, C. A. A construção de um padrão exonormativo para o português do Brasil. In: SOUSA, S. C. T. de; BRAGA, A. (orgs.). A dimensão política da língua(gem): perspectivas da Linguística Aplicada e das Teorias do Discurso. Campinas: Pontes, 2024. p. 143-179.
Este capítulo historiciza alguns eventos que estiveram vinculados ao processo de fixação de uma norma-padrão para o Brasil a partir do século 19 e, paralelamente, ao estabelecimento e difusão de uma cultura do erro no trato das questões linguísticas brasileiras. Para tanto, considera-se a realidade sociolinguística do Brasil Colônia, em que emergiram as variedades do PB popular; arrolam-se asserções que, desde o século 16, imputam deficiências à língua portuguesa falada em territórios colonizados por Portugal; e apresentam-se críticas gramaticais e polêmicas que trouxeram a questão da língua para o centro dos debates intelectuais brasileiros nos séculos 19 e 20.
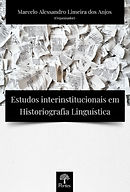
FERREIRA, E. M.; VIEIRA, F. E. A colocação pronominal na gramaticografia brasileira do final dos oitocentos (1880-1899). In: ANJOS, M. A. L. dos. (org.). Estudos interinstitucionais em historiografia linguística. Campinas: Pontes Editores, 2024. p. 76-107.
O capítulo discute, a partir de uma perspectiva historiográfica, a abordagem da colocação pronominal em sete gramáticas brasileiras publicadas nas duas últimas décadas do século 19 (Carneiro Ribeiro, 1881; Júlio Ribeiro, 1881, 1885, 1899; Pacheco; Lameira, 1887; João Ribeiro, 1889; Freire da Silva, 1894). Primeiro, apresentam-se algumas reflexões sobre o contexto em que se inserem esses instrumentos gramaticais e sobre sua visão geral de “gramática”. Na sequência, analisa-se o tratamento descritivo-normativo da “colocação pronominal” e o exemplário apresentado pelos autores, observando as técnicas de análise desse tema gramatical e sua dinâmica em direção a uma abordagem mais descritiva ou mais prescritiva.

FARACO, C. A. Variação Linguística e Ensino: breve ensaio em homenagem a Irandé Antunes. In: NEVES, H.; LIMA, A. (orgs.). A vida no texto: homenagem a Irandé Antunes. São Paulo: Parábola Editorial, 2024. p. 147-159.
Este capítulo é parte de uma coletânea de estudos escritos em homenagem a Irandé Antunes. O foco do texto é o tema da variação linguística no trabalho de Antunes. Aponta-se o fato de que esse tema não é central na obra da linguista, cujas balizas principais vêm da linguística do texto. No entanto, ela não se isenta de abordá-la. E o faz, destacando que não há uma única e homogênea norma culta, mas um conjunto de variedades materializadas na fala e na escrita, correlacionadas com os gêneros discursivo-textuais. O capítulo, em sua última parte, apresenta alguns dos desdobramentos dessa perspectiva de Antunes em trabalhos recentes de outros linguistas.

FARACO, C. A. Da importância da pedagogia da variação linguística para o ensino de língua portuguesa. In: ALMEIDA, J. E. de; ALTINO, F. C.; BRANDÃO-SILVA, F. (orgs.). Em torno (entorno) da pedagogia da varia�ção linguística. Londrina: Eduel, 2024. p. 11-24.
O texto expõe alguns dos desafios pedagógicos que os professores de português enfrentam em decorrência da integração de fenômenos relativos à variação linguística no ensino da língua. É uma discussão que se situa na Pedagogia da Variação Linguística, cujo foco tem sido uma pedagogia da língua sociolinguisticamente fundamentada e pautada por duas grandes balizas: a variação linguística como um todo e, no interior desta, uma abordagem das normas de referência, em especial para a língua escrita. O texto explora, entre outros aspectos, as reações sociais negativas aos fenômenos da variação linguística e propõe alternativas para enfrentá-las.
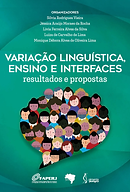
FARACO, C. A. Em busca de uma norma-padrão brasileira. In: VIEIRA, S. R. et al. (orgs.). Variação linguística, ensino e interfaces: resultados e propostas. São Paulo: Pimenta Cultural, 2023. p. 23-28.
Este texto foi escrito como Apresentação do livro "Variação linguística, ensino e interfaces: resultados e propostas", organizado por Silvia Rodrigues Vieira et al., reunindo textos apresentados no IV Simpósio de Variação Linguística e Ensino. Faz-se, nele, um retrospecto da construção da norma-padrão lusitanizada para o português brasileiro. Destaca-se a dupla negação que o processo envolveu: a do chamado português popular, falado pela massa de escravizados e de trabalhadores pobres brancos e mestiços; e a da própria variedade culta da língua praticada no Brasil. Aponta-se o evidente fracasso desse projeto normatizador e se defende a necessidade de se desatar o imbróglio normativo do Brasil.

FERREIRA, E. G. de M. As Regras da lingua portugueza, espelho da lingua latina, de Jerónimo Contador de Argote (1725), e a gramatização da colocação pronominal: apontamentos historiográficos. In: LAU, H. D. et al. (org.). Linguagens em múltiplas faces: uma agenda de estudos teóricos e aplicados. São Paulo: Pimenta Cultural, 2023. p. 494-514.
O capítulo discute a abordagem da colocação pronominal nas “Regras da Lingua Portugueza, espelho da lingua latina” (1725), de Jerónimo Contador de Argote (1676-1749), e suas motivações e implicações no processo de gramatização do português no século 18. Para tanto, busca-se resgatar o contexto histórico da obra, considerando-se a atmosfera social e intelectual setecentista e a biobibliografia do autor, e compreender as ideias relacionadas ao posicionamento dos pronomes, analisando-se definições, tratamento normativo e exemplário.